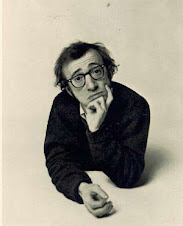Tá, vamos tocar em frente e não vamos abandonar isso aqui de novo, dona Aline morena, super sensual de oncinha e batom vermelho..
Post pra quem tiver a paciência e tempo pra ler e discordar de mim...
Depois de dezenove anos em recesso do cinema, o mítico Indiana Jones ressurge, inesperadamente, ainda com seus inseparáveis e mais fiéis companheiros: um chapéu e um chicote, que já lhe renderam inúmeras aventuras. Confesso-lhes ser essa a primeira vez que me lembro de ter sentado no sofá especificamente para assistir a um filme do tal professor, aventureiro, ladrão de tumbas, agente duplo, Henry Jones Junior. E até que foi uma boa experiência, pra marinheiro de primeira viagem. Já esperava as explosões, fugas rápida e genialmente pensadas, sem falar nas mais inimagináveis passagens secretas do filme. Contudo, confesso que me surpreendi, com a sutileza com que são tratadas todas essas aventuras, sem superestimar o protagonista, tornando-o inatingível, como o fazem outros filmes por aí, que tentam seguir o mesmo caminho deste clássico.
Mas não há nada como ter um Steven Spielberg como diretor. As marcas do criador de outras aventuras do gênero – aventuras surreais que, quando dirigidas por Spielberg, nos parecem mais reais do que qualquer “baseado em fatos reais”- são evidentes, como se pulassem aos olhos dos mais atentos expectadores (ou daqueles que, como eu, assistiram o filme mais de uma vez). Uma delas me chamou mais atenção que tudo no filme, e acho interessante a descrição do que me lembro da cena ao leitor para que acompanhe o rumo que pretendo seguir.
Logo no início do filme, temos um camburão oficial do exército, com dois jovens recrutas, mudos e sérios, numa estrada em meio a um belo dia ensolarado. De repente, ao lado do camburão, surge um belo conversível, dirigido por um jovem à la anos 50-60, de jaqueta e óculos escuros e acompanhado de belas garotas, todos rindo divertidamente. Ao alcançar o camburão, os jovens começam a pedir por uma corrida, só de farra. Um pouco eufórico, o jovem recruta que dirige o camburão olha para seu co-piloto, e é recebido por um olhar de desaprovação. Na insistência dos colegas do carro ao lado, o oficial acaba por pisar no acelerador, desafiando-os, alegremente, numa corrida pelo resto de caminho que percorreram juntos. O que tem demais na cena? Spielberg aproveitou a breve introdução ao começo do filme para, além de ambientar o expectador ao tempo em que se passa a história, lembrar-nos de uma questão importante contemporânea àquela época.
O filme se passa em 1957, auge da Guerra Fria, entre disputas socialistas e capitalistas da ex-URSS e dos EUA. O dilema dos jovens americanos da época era o serviço militar. Por um lado, uma bela atitude, honrosa demonstração de amor à pátria. Porém ficavam pra trás as garotas, milkshakes, familiares e às vezes a própria juventude. Percebe-se na cena inicial de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, nome da quarta sequência de aventuras Splielberg/Lucas/Ford, a mudança de expressão do recruta ao ver jovens que viviam como ele viveu antes de estar ali, dirigindo um camburão oficial. Carrega pesar e alegria ao mesmo tempo, empolgação e inveja. Um sentimento de sacrifício, que deve ter passado por todos os jovens que deixaram de lado uma vida comum para serem glorificados no exército americano.
Os EUA criaram um tipo de endeusamento naqueles que iam servir na guerra, mesmo que esta na defendesse seu próprio País, e sim, interesses e ideologias. A interferência americana no Iraque em 2003 parte do mesmo princípio: o orgulho da pátria americana são os soldados que lutaram – e ainda lutam – nessa guerra. Com uma diferença: na época da Guerra Fria, no caso da interferência americana na Guerra do Vietnã, em 1965, os jovens protestaram pelo fim da guerra, pela desocupação do pequeno país dividido e enfraquecido. Não queriam mais lutar numa guerra que entenderam que não lhes pertencia. Clamavam por paz, amor, e não guerra. Inúmeros símbolos serviram à manifestação: cabelos compridos, ao contrário dos cortes rentes aplicados no exército; roupas coloridas e personalizadas ao invés de uniformes padronizados; flores em troca de armas de fogo.
Os jovens da década de 60 criaram sua própria ideologia, e a disseminaram sem ter que lutar por ela. Talvez seja disso que precisem os novos soldados dos EUA: uma ideologia própria, algo que lhes traga mais virtudes que lutar por uma causa que, novamente, não lhes pertence; para o qual são direcionados sem maiores explicações e justificativas. Talvez esse registro já esteja desatualizado; talvez o Obama, ou alguém da Casa Branca tenha percebido a inviabilidade da Guerra do Iraque, e já esteja fazendo algo aos jovens combatentes. Uma pena; penso que seriam mais vitoriosos se os próprios recrutas tivessem criado algo que os tirassem de lá – ou pelo menos impedissem-nos de se submeter a esse jogo de interesses.
Incrível como uma cena de início de filme, uma cena que nem é tão relevante para o desenrolar da história, que pode ter sido esquecida por muitos dos que assistiram ao filme, e por isso também não encontrei nenhuma imagem da referida cena para ilustrar esse escrito, me fez entrar nessa questão, e numa outra, essa por sua vez pode ter-me ocorrido por uma preocupação que me atormenta.
O tal endeusamento dos soldados americanos que vão lutar por ideologias que nem sequer apóiam ou acreditam parece-se com a supervalorização que hoje vemos num diploma de curso superior. Quando acabamos o Ensino Médio, logo nos vem a pergunta: vai fazer que faculdade? Prestar qual vestibular? Parece-me que estamos destinados a continuar os estudos após ter concluído o colegial. É claro que nós temos isso em mente, não nego que também tive vontade de entrar para uma universidade – e o fiz. Mas acredito que nossos pais, e a sociedade em geral, glorificam o ingresso na faculdade como os EUA glorificaram os jovens que participavam do serviço militar.
Não me cabe julgar se isso é bom ou ruim (no caso do recrutamento militar, acredito que não tenha sido nada bom; muitos deixaram de aproveitar a juventude, ou até perderam a vida). Com certeza as experiências adquiridas junto com um diploma de curso superior tem o seu valor. Mas acredito que a partir do momento em que se torna praticamente obrigatório ingressar em uma faculdade após já ter estudado mais de dez anos na escola, uma liberdade de escolha nos foi privada, uma liberdade de pensar por um tempo maior, de conhecer outras coisas, além dos cursos superiores, para só depois escolher – ou não - uma área acadêmica para seguir.
Outra coisa: o ingresso em um curso superior nos submete a um exame seletivo que decide quem pode ou não, quem está apto ou não, a entrar para uma universidade. O temido vestibular, em minha opinião, é um método visivelmente injusto, uma vez que não trabalha no sentido de avaliar o preparo psicológico e interesse do ingresso na área em que irá cursar. O exame consiste em uma série de perguntas sobre o extenso – e quase nunca completo – conteúdo da grade curricular do Ensino Médio. Todos nós sabemos que virou a mais pura “decoreba”, que provar saber todas as fórmulas para o cálculo da velocidade média de um carro em movimento uniformemente variado não quer dizer que se está preparado e merece entrar pra faculdade.
Enfim, acho que é por isso que eu gosto de ver uma obra de Steven Spielberg. É incrível como nem o respiro, nem a introdução de seus filmes são inocentes, assim digamos. Ele é o tipo de diretor que parece querer aproveitar cada segundo do filme, cada cena, usando esse espaço para introduzir polêmicas que não caberiam no enredo do filme. Admiro-o, pela capacidade de causar um estardalhaço maior do que suas explosões em pequenos trechos aparentemente feitas para dar uma pausa em meio às maiores emoções de suas aventuras.